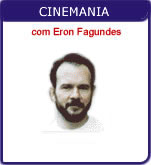 07
de fevereiro de 2006
07
de fevereiro de 2006
Quando
a mineira Helena Morley, na década de 40 do
século passado, levou ao prelo Minha
vida de menina (1942), o agrupamento em volume de seus
despretensiosos diários da primeira adolescência
entre os anos de 1893 e 1895, começou-se a
construir um dos mitos mais intrigantes da literatura
brasileira. Como o texto, já na nota à 1ª edição,
era francamente atribuído a uma menina de
treze anos (considerada “imberbe” não-somente
para a vida mas ainda para a literatura: e as duas
coisas, clareza de observações de vida
e um notável despojamento literário,
coexistiam nos diários), levantou-se a possibilidade
de uma mistificação de Helena adulta
para com a ingenuidade do leitor. A nota da autora
no intróito do livro é clara: “Nesses
escritos nenhuma alteração foi feita,
além de pequenas correções e
substituições de alguns nomes, poucos,
por motivos fáceis de compreender.” No
prefácio clássico de Alexandre Eulálio,
escrito em 1959, a hipótese de não
existir o tal diário e ser o livro uma reconstrução é aludida,
mas é citada a palavra de Guimarães
Rosa como defesa de um texto cuja qualidade supera
até mesmo esta possível impostura:
uma ficção de memória escrita
como se fosse um diário vivo e apresentada
ao público como um diário vivo de uma
garotinha.
No
ensaio Duas meninas (1997) o ensaísta brasileiro
Roberto Schwarz, que faz um paralelo (diferenças
e semelhanças, aproximações
e oposições) entre o (aparentemente)
elaboradíssimo Dom Casmurro (1900), de Machado
de Assis, e o (aparentemente) solto relato diário
de Helena, o analista confronta duas situações
que tornariam a leitura dos diários (ou falsos
diários) antagônicas: se o livro de
Helena teve os diários da adolescente reordenado,
em estrutura e prosa, pela Helena adulta (dizem que
seu marido foi também um bom escritor, depois
esquecido, Augusto Brant, e sua mão poderia
ter sido fundamental no resultado estético
a princípio negado pela composição),
não haveria motivo para decepção,
conservou-se a naturalidade e deu-se unidade artística
ao conjunto; todavia, evoca Schwarz, se a invenção
foi total, os originais nunca existiram, a situação
narrativa da menina que escreve um diário é uma
ficção de Helena (ou de seu marido),
algo se perderia no sabor de ler. “Muito do
que em espaço de registro parecia um dado
vivo e curioso, num espaço de composição
estrita fará figura tosca, pseudo-ingênua,
de insuficiência artística”, anota
Schwarz.
Seriam
as coisas assim tão simplórias,
tão ao sabor do substrato real? Nesta teia
de suposições, tenho minha teoria:
dada a absoluta espontaneidade do narrar, caso único
na literatura brasileira (penso nos que se lhe aproximaram
como linguagem familiar: José Lins do Rego
e Manuel Antônio de Almeida, mas que distância
de veracidade e, sim, profundidade!), cuido que os
diários existiram; dadas as extraordinárias
ligações que tornam o conjunto harmonioso,
preciso e cheio de referências sociais e históricas,
estes textos de menina certamente foram retrabalhados
na década de 40 (por Helena, por seu marido,
seja lá quem for o co-autor com esta garota
vivaz que, ao cabo da leitura, se converte numa das
personagens mais cativantes de nossas letras). De
qualquer maneira, mesmo que aquilo que há de
documento espontâneo aparente em Minha
vida de menina possa ser uma miragem (a inexistência
dos diários originais), para o leitor isento
o livro deve inevitavelmente ser lido como um romance
e como um diário e como um romance sob a forma
de diário; a verdade literária permanece
intacta qualquer que seja a sua situação
real, ainda que, como diz a nota à 1ª edição,
o texto daquela rapariguinha de treze anos tenha
chegado até nós sem alterações;
neste caso, a pequena Helena é, sem favor,
um dos gênios de nossa literatura, aquele que
mais fundamente penetrou nas possibilidades orais
de nossa prosa literária. Obra de um rigor
exemplar na captação do espírito
lingüístico interiorano, Minha
vida de menina pode ser mais uma comprovação
de que o gênio nasce do acaso e aquilo que
aparece com minúcia de detalhes (um estudo)
vem de observações livres e gratuitas
duma alma.
Sempre
se disse em literatura que as prosas de linguagem
rebuscada (Guimarães Rosa, por exemplo) são
difíceis de traduzir para outra língua,
chegando às vezes a ser impraticáveis
(Finnegans wake, 1939, do irlandês James Joyce).
Mas Minha vida de menina, com suas minúcias
de aproximação à linguagem coloquial,
vem provar que transpor a simplicidade lingüística
para outro idioma também pode ser problemático;
não sei se Elizabeth Bishop alcançou
um rendimento de cem por cento ao evocar o mundo
verbal da Diamantina do fim do século XIX
para o inglês corrente nos anos 40 do século
XX na América do Norte.
Por
fim, outra aproximação. O alagoano
Graciliano Ramos e a mineira Helena Morley. Sei que
a dureza sintática de Graciliano difere muito
da lassidão da prosa de Helena. Ocorre que
Graciliano voltou a seus primeiros anos em Infância (1945), que é um livro de memórias
e cuja estrutura fragmentada é mais evocativa
e menos narrativa que o texto de Helena. Lá pelas
tantas em suas memórias Graciliano refere
a dificuldade de pronunciar o nome de Samuel Smiles,
um escritor presente na seleta da virada do século
XIX para o século XX, época infância
do autor. Em seus diários Helena cita alguns
livros de Samuel Smiles que era obrigada a ler: as
referências de Helena a este escritor são
tão desairosas quanto as de Graciliano. Pelo
visto, Smiles, um nome que hoje nada diz, foi alguma
leitura escolar obrigatória naqueles recuados
anos das infâncias de Helena e Graciliano.
Não serviu para nada o sr. Smiles, senão
para que Helena e Graciliano escrevessem como seus
antípodas.
Como
ocorria nos livros de ficção da
inglesa Jane Austen, o único livro da brasileira
de origem britânica Helena Morley traz uma
aparência e uma transcendência: parece
uma crônica de moça, circunscrita a
um círculo geográfico e familiar, e
transcende o acanhamento do meio, expandindo seus
conceitos e suas idéias inicialmente limitadas.
Minha vida de menina tem tido uma vida marginal nos
estudos literários brasileiros, é inevitável:
a ostensiva ingenuidade de seu texto é sub-liminarmente
provocativa e não teria mesmo como ser levada
a sério numa literatura voltada para a grandiloqüência
estética. Ainda bem que nestes tempos relativos
os tabus se movem e podem surgir análises
marginais que visam sem pudor ao centro visível. É por
aí que Minha vida de menina poderá estourar
como realmente é: o mais belo retrato de interior
de nossa literatura.
Por
Eron Fagundes