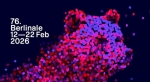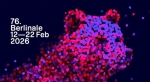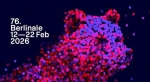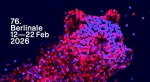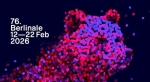O Corte eh o Movimento
Ha, ao longo deste filme de quadros imoveis movimentados somente pelos dialogos cotidianos e vivos e pelos cortes de inteligente precisao

O japonês Yasujiro Ozu cumpriu m número fechado em sua vida na terra: sessenta anos ele durou por aqui. Nascido em 12 de dezembro de 1903, veio a falecer num outro 12 de dezembro, em 1963. Sua ascensão sobre o cinema nipônico na primeira metade do século XX é fundamental. Mas no Ocidente ele foi descoberto tardiamente, e este fato crítico-estético atrasou bastante os estudos cinematográficos. Entre o nascer e o morrer parece que Ozu traz a batida do rigor budista da cultura oriental: as coisas têm uma programação central, ou uma espécie de espírito central, de onde o artista retira a inspiração que determina todos os seus gestos ao longo da existência. Uma essência estrutural que permanece no corpo da criatividade individual. Coisas do universo oriental, de sua mística às vezes inacessível ao homem ocidental. Em seu leito final, Ozu balbuciou para um de seus discípulos, Kiju Yoshida, diretor de cinema, então bastante jovem, e que o visitava no hospital e que muitos anos depois lhe dedicaria um ensaio: “O cinema é drama, não é acidente.” Penso que uma das interpretações desta sentença-enigma de Ozu pode encaminhar-se para este sentimento que se tem de que no Oriente não se crê em acasos ou acidentes: e assim o gesto cinematográfico tem de ter seu rigor formal, como a vida, que se fecha em ciclos, e para Ozu esta vida fechou-se numa matemática que se enclausura em exatas seis décadas.
Era uma vez em Tóquio (Tokyo MOnogatari; 1953) é feito de planos fixos, e a posição da câmara é sempre ao rés-do-chão; tudo é controlado e o tom de voz cinematográfico não se altera ao longo das pouco mais de duas horas de projeção. No entanto, Ozu altera a estaticidade de sua linguagem cinematográfica pelas formas do corte; o que dá movimento a uma narrativa montada com uma câmara imóvel vem a ser a grande sutileza de seus cortes, permitindo que o conjunto de diálogos e enquadramentos possam adquirir fluência e mobilidade graças às variações angulares e plásticas com que o cineasta faz a montagem das sequências —agrupando personagens em pedaços de cenários que estão no mesmo espaço e sequência (estes cenários podem ser trechos contíguos duma residência), Ozu alterna planos que propõem diferentes aproximações entre as criaturas em cena, que ora aparecem nos segundos planos, ora são cortadas para os primeiros planos da imagem, tratando de variar as questões em torno do assunto central da cena ou do próprio filme. Uma dialética entre parte e todo tão cara, por exemplo, ao pensador francês Blaise Pascal: mas a uma maneira muito oriental, direi orientalíssima, e sempre com uma espécie de enigma na simplicidade oracional que remete à frase de Ozu para Yoshida no leito final.
Há, ao longo deste filme de quadros imóveis movimentados somente pelos diálogos cotidianos e vivos e pelos cortes de inteligente precisão, unicamente dois momentos em que a câmara se mexe. A primeira vez: a câmara rasteja junto dum muro e depois para diante do casal de velhos. A segunda vez se dá pouco depois, passados alguns poucos planos fixos: a câmara observa os dois velhos que começam a caminhar junto duma amurada à beira d’água que dá vista para a metrópole e em seguida se move um pouco para os acompanhar no caminhar. (Há um terceiro travelling, do ponto de vista visual, mas a câmara está dentro do ônibus que leva as personagens num passeio por Tóquio: o movimento é do ônibus; a câmara, que vai de carona, na verdade está estática dentro do veículo; a despeito da mobilidade da imagem que o espectador vê; algo extradiegético). A escassez de movimentos de câmara em Ozu não produz a estaticidade metafísica do italiano Michelangelo Antonioni nem o rigor de natureza intelectual do francês Robert Bresson; substituindo os aspectos parados de um filme pelos cortes em movimento, Ozu chega àquela natureza narrativa em que tudo parece tão natural e autêntico mesmo quando sobrevém o inesperado. Observou o americano Paul Scharder, em seu ensaio clássico O estilo transcendental em filme (1972), que a explosiva cena (temperamental, dramática) de Setsuko Hara, no papel da nora dos velhinhos do filme, viúva do filho deles morto havia oito anos, aquela cena em que desabafa surpreendentemente diante do sogro, numa conversa sobre si mesma após a brusca morte da matriarca ao voltar de Tóquio para o interior, diz então Schrader que nada nos preparava para aquele clímax inusitado; e todavia é ainda inteiramente natural que se dê aquela explosão emocional da mulher por tudo o que tínhamos visto até ali conforme os relatos narrados por Ozu em seu filme —estes relatos aludem naturalmente à distância entre as gerações e a um disfarçado e controlado desdém pelas necessidades humanas de todos os seres e dos idosos especialmente. A grande simbologia, que talvez somente um oriental pudesse estabelecer assim como vemos no filme, está nas formas cinematográficas com que o cineasta põe os cortes em seu trabalho de montagem; estas formas criadas por Ozu elaboram a própria temática de sua concepção artística, pois a velhice parece mesmo um corte em movimento, aparentemente imóvel, aparente ou verdadeiramente movimentando-se para algum lugar enigmático, o encontro dramático, a grande relação final, como naquele leito, em Tóquio, em que Yoshida, crítico, cineasta, biógrafo, topou Ozu no dia dos sessenta anos do realizador de Era uma vez em Tóquio.
(Eron Duarte Fagundes – eron@dvdmagazine.com.br)
Sobre o Colunista:

Eron Duarte Fagundes
Eron Duarte Fagundes é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955; mora em Porto Alegre; curte muito cinema e literatura, entre outras artes; escreveu o livro “Uma vida nos cinemas”, publicado pela editora Movimento em 1999, e desde a década de 80 tem seus textos publicados em diversos jornais e outras publicações de cinema em Porto Alegre. E-mail: eron@dvdmagazine.com.br
relacionados
últimas matérias