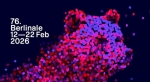Depoimento de Rubens Ewald Filho - Parte 2
REF relembra como iniciou o seu amor pelo cinema (em tres partes)

Depoimento de Rubens Ewald Filho – Parte 2
Continuando a falar de estrelas, no meu panteão tem algumas que, de certa maneira, eu venero. Uma delas é a Betty Davis. Ela era a mulher que todos gostavam de odiar, porque ela fazia o papel de má. Eu admirava muito a personalidade dela. Ela buscava o melhor papel, ia à luta, daquela geração é a que eu mais vi e até hoje admiro. Eu era fã, continuo fã e tenho orgulho de ser fã. Houve até um crítico, A. Carvalhaes, já falecido, que fez uma dedicatória para mim dizendo “Ao Rubens, que é o primeiro crítico que não tem vergonha de se declarar que é fã”. Mas ainda assim eu preservo o meu gosto pessoal. Só nos últimos anos é comecei a revelar alguns dos meus preferidos.
Outra atriz que me pegou muito foi a Romy Schneider, que a gente se apaixona com ela fazendo Sissy (Sissy, Ernst Marischka, 1955)e vai acompanhando a carreira, até ela se revelar de uma extrema sensibilidade em filmes ousados, difíceis, linda quando ela quer como em A Piscina (La Piscine, Jacques Deray, 1969) ou trágica em O Importante é Amar (L\\\\\\\'Important c\\\\\\\'est d\\\\\\\'aimer, Andrzej Zulawski, 1975) e na própria da vida, da forma como morreu. Ela vira mito porque largou a ingênua para virar a trágica. E o público gosta da tragédia.
A atriz que mais me marcou e que eu mais admiro é a Vanessa Redgrave. Acho que todo grande ator erra, experimenta, faz coisas não confortáveis, interpretações que não são fáceis. Eu vi interpretações teatrais dela horríveis. Mas também já vi maravilhosas. Eu fiz uma entrevista com ela para o Brasil, na qual ela se revelou uma louca completa. É claro, uma mulher que mexeu na sensibilidade, que foi ao seu limite, tem de sair danificada. Não tem jeito. Exemplo contrário é o Robert De Niro agora. Faz tudo igual, num certo sentido vendeu a alma ao diabo. Ele não experimenta mais. Al Pacino eu gosto, porque ele guarda o dinheirinho dele para fazer filmes que nem mostra, mas está experimentando.
Só descobri os cineastas um pouco mais tarde, da mesma forma que só descobri depois o cinema que eu realmente gosto. As pessoas me ligam a Hollywood, principalmente por causa do Oscar e por eu ter estudado muito esse cinema, mas eu tenho várias restrições ao cinema hollywoodiano. Eu tenho muita curiosidade também de ver filmes que eu não consegui assistir na época. Eu fui para a França para ver os primeiros filmes dos irmãos Marx, por aqui só passava Uma Noite na Ópera (A Night at the Opera, Sam Wood, 1935) e mais nada. Filmes que eles fizeram na Paramount não chegavam aqui. Eu vi lá os primeiros filmes da Ginger Rogers e Fred Astaire. Eu acompanhei a história do cinema pagando para ir à Europa e aos Estados Unidos para ver os filmes.
Um Bonde Chamado Desejo (A Streetcar named desire, Elia Kazan,1951) com o Marlon Brando, eu vi muito recentemente. O filme chegou aqui nos últimos 15 anos, não passou nunca na televisão e quem não viu, não entende o mito Marlon Brando. Pela maneira como ele entra no filme, é uma revolução. Ele não só é carismático, ele é sensual. Em 1951, quando era absolutamente proibido, ele vem com a roupa rasgada, ele fala de boca cheia, ele estupra a Vivien Leigh. E todo mundo acha maravilhoso, apesar de politicamente incorreto. Ele é o ator moderno. Mas se você não viu esse filme, não dá para entender os outros que vieram para cá e nos quais ele é uma caricatura ou neutro, como o Napoleão que ele faz em Desirée (Desirée, Henry Koster, 1954).
Paul Newmann, recentemente falecido, nada mais era que um imitador de Marlon Brando, que depois conseguiu encontrar suas próprias características. Mas não dá para entender James Dean sem ter visto Um Bonde Chamado Desejo. Por isso repertório é importante. Eu gosto muito de Martin Scorsese, apesar da irregularidade da obra, porque sinto nele uma paixão por filmar. Gosto de cineastas que têm isso. Para mim o diretor se expressa pelo uso do movimento de câmera, pelo travelling. Eu acho Sérgio Leone o máximo porque ele usa esse movimento em Era Uma Vez na América (Once Upon a Time in America, 1984) e em outros filmes. O Scorcese tem outra coisa. Ele é um grande conhecedor da história do cinema, pelo menos dos anos 1950 para cá, quando ele era moleque. Em minha opinião, ele se tornou o melhor crítico de cinema dos Estados Unidos. A história que ele faz do cinema italiano e do americano é sem preconceito, é pessoal. Como cineasta ele tem generosidade.
Eu sempre tive paixão pelo cinema italiano, porque sempre achei que os filmes chegavam mais próximos da maneira de ser brasileira. Eu sempre admirei a capacidade do italiano de se autocriticar. A comédia italiana nada mais é do que a ilustração daquela piada do cara que está com a faca enterrada no peito e diz que só dói quando ele ri. Eles realmente foram o povo que melhor se mostrou, além de serem atores naturais. Eu não gosto do Rossellini porque ele não tem a vibração que eu gosto. Ele é um cara estático. Eu odeio filme frio. A idade de ouro do cinema italiano vai de 1946 até 1970. Era a melhor fotografia, melhor trilha musical, cenografia e havia grandes cineastas. O filme Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988) mostra um pouco isso - um mundo em extinção.
Eu tenho enorme admiração pelo diretor italiano Vittorio De Sica, como ator, como personagem, tudo se mistura nele. Em Pão, Amor e Fantasia (Pane,Amore e Fantasia, Luigi Comencini, 1953) ele era uma figura tão humana e ao mesmo tempo um conquistador meio vigarista. Na vida real ele era viciado em jogo e então fazia filmes para pagar as contas. Mesmo os filmes mais fracos do De Sica têm essa coisa poética, como em Ladrões de Bicicleta (Ladri di Biciclette, 1948).
Evidentemente um grande cineasta na Itália e no mundo foi o (Federico) Fellini. Os primeiros filmes dele têm essa coisa cálida, que também havia em outros diretores. Mas o Fellini deixou de ser um cineasta e foi um artista, na verdadeira acepção da palavra. Felliniano ainda é um adjetivo. Ele criou um universo próprio de uma maneira tal que se enreda na própria autobiografia e aí não tem mais o que dizer e começa a fazer circo. Satyricon (Satyricon, 1969) nada mais é que um circo. Aquela Roma nunca existiu, só na cabeça dele. O Amarcord (Amarcord, 1973) já é um filme que tem essa coisa cálida de que eu falo.
O melhor Fellini que eu já vi é 8 ½ (Otto e Mezzo, 1963). Todos ficaram pasmos, porque é o primeiro filme que mostra presente, passado e imaginação no mesmo plano. Até então, quando se fazia um flashback, a tela mudava de cor, entrava uma musiquinha, desfocava um pouco, sinalizava para o público que vinha uma cena do passado. Quando era imaginação era ainda mais delirante, com um balé, para dar certeza de que era um delírio. Em 8 ½ não tem isso. Ele está conversando com a mulher, de repente entra a amante e as duas começam a dançar. Ao mesmo tempo ele faz um personagem que é seu alter-ego, o cineasta que não tem mais o que dizer e entra numa crise criativa.
Como eu já escrevi novela eu sei o que é isso. Antes era o terror da página em branco. Hoje é a tela do computador. Há um bloqueio e você não consegue criar. Só quem passa por isso sabe o que é a angústia do artista que não sabe criar. Essa é a história do filme, do cara que não sabe se ainda tem algo a dizer, se a fonte dele secou. De uma certa maneira, o Fellini prevê sua própria crise. No filme a história se interrompe, não é concluída. E no filme seguinte, A Viagem de Guido Mastorna, ele interrompe as filmagens e não conclui a produção. Eu devo ter visto 8 ½ umas 40 vezes e sempre me surpreendo pela maneira como ele dirigia atores. Ele pegava pessoas na rua, fazia elas andaram e a câmera acompanhando. Elas diziam apenas números em determinado ritmo e depois ele dublava o diálogo. Isso significa que o filme era intensamente visual. Não importava o que se estava falando, mas sim a cara da pessoa, criando aquele universo que a gente chama felliniano.
Hoje não há um cineasta com essa amplitude de sentimentos. O Almodóvar é o que me mais toca, porque aborda temas mais próximos da gente. É um grande cineasta, representante da cultura espanhola, tão interessante. A família é uma mistura de alemão, italiano, espanhol, português, russo e belga. Mas sou muito influenciado pelo italiano. Eu falei de História sem Fim, que é outro modelo da minha vida, porque eu lia muito. A leitura para mim sempre foi uma grande viagem também.
No livro Melhores Filmes de Todos os Tempos que eu escrevi, chamei a atenção para alguns filmes que eu gosto muito. Gillo Pontecorvo que fez A Batalha de Argel (La Battaglia di Algeri, 1965) ainda o melhor filme político de todos os tempos. Na época, quando o filme chegou ao Brasil, a cópia foi seqüestrada pelo exército e não deram qualquer satisfação. Levaram para a Academia de Agulhas Negras e usaram para combater a guerrilha. Gosto muito também de Queimada (Queimada/Burn, 1963) do mesmo diretor, que é uma alegoria sobre colonialismo, com Marlon Brando completamente gay. Queimada é muito a cara do Brasil e precisa ser revisto. Outro grande cineasta é Ettore Scola. Tudo o que ele fez é interessante. Nós que nos Amávamos Tanto (C\\\\\\\'Eravamo Tanto Amati, 1974) , retrato de uma geração com o qual todos nos identificamos. Eu adorava todos aqueles atores italianos e tive grande emoção de estar com Nino Manfredi, Alberto Sordi. O Scola é um diretor de cinema teatral, embora nunca tenha feito teatro. Isso aparece no roteiro original de Um Dia Muito Especial (Una Giornata Particolare), com Sophia Loren e Marcello Mastroianni, o meu ator preferido. Não há outro que tenha a mesma humanidade e sensibilidade. Ele é absolutamente único.
Eu gosto de (Luchino) Visconti, mas nunca fui muito apaixonado. Gosto de Rocco e seus Irmãos (Rocco e I Suoi Fratelli, 1960), mas Morte em Veneza (Morte a Venezia, 1971) me incomoda um pouquinho. Gosto muito é do (Michelangelo) Antonioni. Eu não sei por que O Eclipse (L\\\\\\\'Eclisse, 1962) foi um filme que me pegou tantas vezes. Aquela história de os dois marcarem um encontro e nunca aparecerem é contada de forma totalmente visual. E me pegou em parte porque esse conceito de paranóia, de tédio, é comum na adolescência. A obra-prima do Antonioni é Blow Up (Blow Up, 1966). Ele também colocava todo mundo andando, às vezes parecia chato, mas tem um domínio da narrativa e da linguagem, que é difícil encontrar hoje em dia. A Noite de São Lourenço (La Notte di San Lorenzo,1982), dos irmãos (Paolo e Vittorio) Taviani, é outro filme italiano que me marcou muito.
Como eu já havia dito, os grandes clássicos do cinema americano não conseguíamos assistir aqui no Brasil. Só fui ver Casablanca (Casablanca, Michael Curtiz,1942) quando já era crítico há mais de 10 anos. Pode ser um grande filme, mas não era exibido e não fez a minha cabeça. Um filme que me marcou muito se chama Cinzas e Diamantes (Popióli i Diament, 1958), do (Andrzej) Wadja, de uma beleza incrível.
Cada vez mais eu gosto de (Luis) Buñuel. Quanto mais velho ele ficava, mais divertido era. Corajoso, fiel a ele mesmo. Em seu último filme, Esse Obscuro Objeto do Desejo (Cet Obscur Objet du Désir, 1977), ele coloca uma atriz diferente em cada sequência fazendo o mesmo personagem. E há espectadores que saem do cinema sem perceber que há essa troca. Por morar em Santos eu não conseguia assistir alguns filmes. Acossado (À Bout de Souffle, 1960), do (Jean-Luc) Godard, eu fui assistir na televisão, no final dos anos 1970. (Alfred) Hitchcock é outro cineasta que eu acho o máximo. Não há outro que saiba narrar uma história e brincar com o espectador como ele. E erra também, o que eu acho fundamental – precisa errar, para aprender.
A comédia é essencial. Na vida é preciso rir. Por meio do riso quebram-se tabus. Meu cineasta preferido de comédias é o Billy Wilder. Quanto mais Quente Melhor (Some Like It Hot, 1960)é a principal, mas tudo o que ele fez é bom. Hoje em dia, em comédia, eu ainda gosto do Steve Martin, que ainda tem lampejos de criatividade iguais ao seu início de carreira. Eu gostava do Jacques Tati, estou até revendo alguns de seus filmes. Talvez a grande figura de comédia que eu mais admire seja Buster Keaton. O Chaplin eu acho sentimentalóide, se perde com frequência. É um grande bailarino, mas o Buster Keaton é o mestre do humor.
John Ford eu diria que é o grande mestre do cinema. Ele usa uma economia de meios para narrar como ninguém. Vinhas da Ira (The Grapes of Wrath, 1940) é o meu favorito. Em parte porque eu conhecia o romance e em parte porque é tão pouco típico do John Ford, tão corajoso, tão poético, tão humano, tão social. Em 1940 falar da depressão daquela maneira, ninguém tinha moral para fazer senão o John Ford. Eu acho que devemos ao John Ford, uma coisa que a minha geração traz e que infelizmente se perdeu, que é o amor pelo faroeste. Há grandes filmes de faroeste dos anos 1950. Eu revi agora A Conquista do Oeste (How the West Was Won, 1962), um filme de John Ford, Henry Hathaway e George Marshall, três grandes cineastas do gênero.
Preciso falar do David Lean, que tem uns filmes perfeitos em narrativa. Embora eu adore comédias, eu também adoro os seus dramas românticos. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum problema em chorar no cinema. Odeio quando os críticos reclamam que o filme é ruim porque faz chorar. Mas me incomoda ser manipulado, isso eu não aceito. David Lean não faz isso em duas obras-primas do cinema romântico. Uma delas é Desencanto (Brief Encounter, 1945), a história do casal que se separa na estação de trem. E a outra é Quando o Coração Floresce (Summertime, 1955), com a Katharine Hepburn.
Depois de rever todos esses favoritos eu coloquei o Stanley Kubrick ao lado do Fellini. 2001, Uma Odisseia no Espaço (2001, a Space Odissey, 1968) é um absurdo. As pessoas não percebem que ele foi feito antes de o homem chegar à Lua. Não existia aquela tecnologia, ele inventou. Até então, ETs tinham cara de caranguejos. Nunca ninguém tinha feito um filme com 23 minutos de diálogo e o restante totalmente visual. Nunca ninguém foi tão longe quanto ele. O filme é a “trip” mesmo! Os primeiros filmes feitos por ele, como A Morte Passou por Perto (Killer\'s Kiss, 1955) são cinema noir, não envelheceram. Glória Feita de Sangue (Paths of Glory, 1957) é um filme que ficou proibido por 20 anos na França, a terra da liberdade, para se ver como é forte a denúncia que ele fez. Ainda é o melhor filme sobre guerra. Até quando ele é imperfeito, ele é bom.
Sobre o Colunista:

Eron Duarte Fagundes
Eron Duarte Fagundes é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955; mora em Porto Alegre; curte muito cinema e literatura, entre outras artes; escreveu o livro “Uma vida nos cinemas”, publicado pela editora Movimento em 1999, e desde a década de 80 tem seus textos publicados em diversos jornais e outras publicações de cinema em Porto Alegre. E-mail: eron@dvdmagazine.com.br
relacionados
últimas matérias