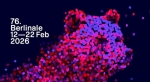Depoimento de Rubens Ewald Filho - Parte 1
REF relembra como iniciou o seu amor pelo cinema (em tres partes)

Vou fazer uma viagem pela memória, para tentar entender a importância que o cinema teve em minha vida. Eu nasci em Santos, o que é um dado muito importante, porque é uma cidade pequena, mas próxima de São Paulo, o que permitia ter um acesso ocasional. Há uma coisa estranha na minha vida: há uma parte da minha infância bloqueada. Até os cinco anos de idade, eu não me lembro de nada. Dos 5 aos 9 anos, quando nasceu meu irmão, eu começo a ter flashes. Não lembro praticamente nada da história familiar, mas lembro dos filmes que eu assisti.
Parece que esses anos foram perdidos. Eu sei que foram anos doloridos, difíceis. Vou explicar um pouco da estrutura familiar para esclarecer. Era de uma família de classe média alta. Santos era uma cidade bonita, agradável. Ter nascido para o mar foi uma coisa que me ajudou muito. O meu nascimento foi difícil, porque minha mãe passou 48 horas em trabalho de parto e eu fui dado como morto. É até uma história mitológica da família, que meu pai foi a um espírita que disse que haveria problemas e fez uma reza. Eu até tenho marcas na testa e nas costas, que são do fórceps, instrumento da época utilizado para ajudar no nascimento da criança.
Eu tive uma avó matriarca, que controlava a família inteira não só com mão de ferro, mas também com intrigas. Era uma educação extremamente repressiva. Não me era permitido brincar na rua, ter amigos. Até então era filho único, era tímido e desastrado. Não sabia me comportar em público, a criança criada assim se acha diferente das demais. Eu sempre brinco dizendo que a minha vida é uma mistura de A Rosa Púrpura do Cairo (The Purple Rose of Cairo, Woody Allen,1985) com História sem Fim (Die Unendliche Geschichte, Wolfgang Petersen, 1984)
A Rosa Púrpura do Cairo porque nele a Mia Farrow ia ao cinema e vivia todas as histórias dos filmes que assistia, e isso acontecia muito comigo. O cinema para mim era minha droga, minha válvula de escape, minha maneira de fugir do cotidiano que era infeliz. Tudo o que via na tela era o que eu queria viver e ser e conseguia me projetando nos personagens. Eu era o Fred Astaire, eu era o pirata... Era uma época bacana, porque os filmes voltavam a ser exibidos, havia reprise. Ingrid Bergman, eu acompanhei a carreira inteira dela, porque ela era muito popular no Brasil. A minha família ia muito ao cinema.
O primeiro filme que eu vi foi Tarzan e as Sereias (Tarzan and the Mermaids, 1948) com Johnny Weissmuller, na matinê Baby do Cine Atlântico, em Santos. Eu tenho um sonho recorrente com esse cinema. Para mim e para minha geração, o cinema era uma missa. Tinha um cerimonial, até teatral. Você ouvia um gongo, uma marcação quase de teatro, chamando o público. A luz ia diminuindo, entrava um tema musical e a tela abria devagarzinho. Passava um curta-metragem, já não eram sessões duplas e nem passavam seriados.
A repressão sobre mim era tão grande e me pegou tão forte que, até os 20 e poucos anos de idade, os meus sonhos eram censurados. Eu não conseguia ter sonhos eróticos. Se eles ocorressem era como no cinema, no momento erótico a câmera desviava e ia para a lareira ou o mar quebrando na praia. Eu tive que fazer um trabalho mental para liberar o meu inconsciente. Ao mesmo tempo também lutava para não virar uma pessoa moralista ou crente religiosa.
Eu acho que aí nasceu o crítico de cinema. Porque eu não sou participante da vida, eu sou um observador. A imagem que costuma me ocorrer é a do menino na sacada, olhando para baixo, vendo os outros meninos jogarem futebol. E de tanto olhar, ele passa a dar palpites sobre o modo de jogar. Ele virou um técnico, de certa maneira. E isso aconteceu comigo. De tanto observar, eu passei a pesquisar e virei um crítico. O problema de ser crítico é que você é crítico na vida também. Não dá para entrar no cinema, ligar um botãozinho e ser sardônico, bem-humorado, divertido e voltar para casa e ser outra pessoa. Você exercita a verve, mas precisa controlá-la na vida real. Embora eu seja uma pessoa acessível, acho que sou insuportável. Aquele menino tímido quer ser amado e a profissão de crítico de cinema certamente não é exatamente a profissão mais adequada para quem tem esse desejo.
Essas situações se passam nos anos 1950 e eu ainda pego os grandes estúdios de Hollywood que, em meados dessa década, começam a se extinguir. Tínhamos aqui no Brasil duas revistas importantes sobre cinema – a Cinelândia e a Filmelândia. As duas eram licenciadas americanas. A primeira editada pela Globo. A outra, cujo título original era Screen Stories, foi a que mais me influenciou. Porque a cada mês publicava uma “novelização”, pequenos contos, dos filmes que iam estrear. Eu gostava de ler não só para saber sobre o filme, mas também porque elas me deixavam saber de coisas que a minha censura não permitia. O mais curioso é que essas revistas se baseavam em roteiros originais e na edição final o diretor mudava muita coisa. Nessa época, eu já tinha um caderninho no qual anotava todas as modificações feitas. Em O Passado não Perdoa (The Unforgiven, 1960) de John Houston, por exemplo, ele cortou um personagem inteiro. Até hoje eu uso o método de dar cotações aos filmes, que aprendi lendo a revista.
Outro detalhe importante é que essas revistas não eram meras traduções. Elas se adaptavam ao Brasil. Feitas por gente que gostava de cinema, elas falavam de John Ford, Franz Capra, e outros grandes cineastas. Tinham colunas permanentes de cinema europeu e até cinema argentino tinha espaço. O que era muito bom e acho que aqui no Brasil nós sempre tivemos uma cultura cinematográfica cosmopolita. A gente sempre viu tudo. Vimos o cinema italiano até ele quase acabar. Cinema francês ainda é visto, mas Jean Paul Belmondo e Alain Delon viraram astros no Japão e na América Latina, particularmente no Brasil. Até filmes de cômicos regionais chegavam aqui, como os de Cantinflas, filmes mexicanos que eram extremamente populares. Passavam até no interior do Brasil.
Outra coisa fantástica é que nós somos um dos poucos países do mundo que assistia ao cinema japonês, dada a forte presença da colônia. Até em Santos tinha dois cinemas que as segundas e terças exibiam filmes japoneses. Os caderninhos que eu escrevia foram uma forma de sistematizar o meu gosto por cinema. Eu devia ter uns 11 anos de idade quando comecei a anotar dados sobre os filmes nos cadernos. Também foram neles que eu comecei a exercitar a crítica.
A dificuldade de obter informações técnicas era superada por leitura de jornais. No O Estado de S. Paulo havia o Rubem Biáfora que fazia as indicações da semana dando detalhes da produção. Também pesquisava em livros e sempre anotei tudo nos caderninhos. Era meu hobby e eu sou uma das poucas pessoas que conseguiram transformar o hobby em profissão.
Como eu já disse, o cinema era uma coisa meio religiosa para a minha geração, que hoje não existe mais. Era uma época em que as estrelas eram estrelas, eram verdadeiros mitos, não apareciam bebendo, batendo carro, fumando ou até morrendo em praça pública. A cultura de celebridade não era como hoje. A estrela vivia num Olimpo, eram deuses literalmente, porque o cinema fazia isso. O Jô Soares uma vez me disse que o preto e branco era o grande amigo dos atores. Em parte porque a gente fotografa melhor em preto e branco e em parte porque a vida não é em preto e branco.
Também se mantinha um distanciamento. As estrelas eram tratadas com a luz certa, com a fotografia certa. Eu fico feliz de ter vivido essa época. É uma coisa que ficou na minha mente. E recentemente percebi que eu passei a trabalhar com o cinema, em grande parte, devido aos atores. Pela fascinação que elas despertaram, pelo desejo de me aproximar delas. Às vezes, o mito é melhor que a realidade...
Mas voltando aos caderninhos. Eles me permitiram controlar a minha vida de cinéfilo e saber que até agora eu já vi 29.670 filmes. Por outro lado, também aprendi que não vale ser um mero acumulador de filmes. O fã de cinema que quer ver o maior número de filmes possível. Eu deixei de ser assim. Eu quero ver sim, tenho eterna curiosidade, mas quero apreciar bem. Eu deixei de ir ao Festival de Cannes porque passei a dormir na sala. Dorme-se muito tarde, acorda-se muito cedo, durante 12 dias. Assiste-se a quatro ou cinco filmes por dia e ainda se fazem entrevistas. Para escrever é difícil, não dá para lembrar todos os filmes vistos.
Outra minha descoberta recente é o prazer de ver de novo filme bom. Bergman eu tenho tido enorme prazer em revê-lo, agora que os filmes estão saindo em DVD. Não sei se o mundo piorou, mas até os seus filmes mais fracos são ótimos. O cinema teve importância para mim desde criança. Não são os filmes da minha vida, mas o cinema da minha vida. Eu não sei se me recuperei do choque do filme no qual eu chorei pela primeira vez no cinema. Já existe em DVD, chama-se O Barco das Ilusões (Show Boat, George Sidney, 1951) com Ava Gardner, que até hoje eu amo. No That’s Entertainment (Era uma vez em Hollywood, Jack Haley Jr., 1974) tem essa cena: ela é colocada para fora do barco, porque é mulata e não pode casar com um branco e vira prostituta. A vida é muito mais bonita no cinema. Visitando as locações a gente descobre que a Fontana de Trevi é uma bobagem, a ponte de Brooklin em Manhattan é muito melhor no filme, nenhum dos filmes que mostra o Empire State foi rodado em locação. A verdade é que o cinema tem essa qualidade – é mágico.
Quando eu fui a Casablanca eu fiquei muito chocado, ao perceber que não tem nada a ver com o filme. É só uma cidade pintada de branco. Não tem nada de mistério e o filme foi rodado em Hollywood. Mas Casablanca existe na cabeça da gente e isso é que bacana. Hollywood fez a nossa cabeça e às vezes de maneira errada. Evidentemente West Side Story (Amor Sublime Amor, Robert Wise e Jerome Robbins, 1961) foi meu filme preferido durante muitos anos, mas uma recente montagem teatral me deixou abalado e fez o filme também cair de categoria. Mas há uma cena, em que os personagens Tony e Maria estão no baile, cada um de um lado do salão, tudo para e o mundo some. A vida inteira eu fiquei esperando que isso acontecesse. Em outros filmes, quando o casal se beijava tocavam sininhos. É um choque descobrir que não é bem assim na vida real...
Por outro lado, o cinema é muito sábio. As pessoas não pegam as lições do cinema. De vez em quando, liga uma amiga minha e diz que está namorando um homem casado. Você não viu no cinema como termina? Não vai dar certo. É A Esquina do Pecado (Back Street, Robert Stevenson, 1941), vai acabar mal. Está tudo lá no filme. Filmes dos anos 1950 mostraram tudo. Para nós, este conhecimento de clichês foi muito útil. Se não na vida, na arte pelo menos. Porque quando chegou a hora de eu trabalhar, principalmente com o Sílvio de Abreu que tem uma cabeça muito parecida com a minha. Quando começamos a escrever roteiros e depois novelas, ele pedia me dá uma cena de divórcio. E eu citava as diversas formas já vistas no cinema. Graças a Filmelândia e às minhas leituras eu tinha repertório. Na vida é muito importante ter repertório. Não é preciso partir do zero.
Curiosamente gente do cinema vê pouco filme. Eu acho fundamental ver muito filme. Bom, ruim, os mais variados, das mais diversas origens. Só assim se tem critério. Muitas coisas são como na vida. O cinema japonês que eu via em Santos, muitas vezes me causava estranheza. Eu vi um filme do Toshiro Mifune, em que ele grunhia. O gestual, a maneira de falar, era tudo muito novo para mim. Eu só fui entender o cinema japonês depois de ter conhecido e experimentado a comida japonesa. A porta para entender uma cultura é a culinária. É o ritual para comer, seguindo-o entende-se o tempo, a maneira de comer e por aí vai. Eu digo isso porque sinto nas pessoas o medo do novo. Elas querem o confortável do conhecido.
É preciso ter curiosidade com o nunca visto. Eu tenho uma insaciável vontade de conhecer novos sabores. Se eu fui bem sucedido na minha carreira é porque eu fui obsessivo. Vocês têm que ser obsessivos no que fazem, têm que correr atrás, procurar o que desejam, lutar sempre e não parar nunca. Irritam-me profundamente os críticos, alguns até com qualidade, que nunca viram série de TV. Desculpem-me, mas, hoje em dia, o que há de mais criativo e interessante no cinema americano são as séries de TV. Você tem que acompanhar, elas são importantes. Elas têm hoje o papel que filme B tinha na indústria do cinema. E isso não tem nada a ver com qualidade, mas sim com orçamento menores e ainda assim fazem coisas extremamente interessantes, ousadas e originais. Ou comerciais ou divertidas. Coisas que o cinemão não sabe fazer. É falta de tempo? Mas é também preconceito. É preciso experimentar e tentar mais vezes.
Rever filmes, mudar, evoluir é absolutamente essencial. Quando eu comecei a escrever, eu adotei como norma, uma frase que tirei de um livro francês, segundo a qual não tem sentido você escrever sobre arte ou qualquer forma de arte, se o que você está criticando não tem a defesa do ser humano. Se você encontra uma obra que trata o ser humano como escravo, como animal, que vilipendia o ser humano, defende a violência, está do lado do mal, a sua obrigação é denunciar. Se o filme tem tons fascista ou desrespeita o ser humano é preciso denunciar. É fundamental falar mal de alguns filmes do Clint Eastwood, de alguns filmes que defendem a violência, que trivializam o mundo moderno. Eu vi um filme recentemente, The House Bunny, A Casa das Coelhinhas, que é um convite à prostituição. Não houve um crítico que tocasse nisso. As pessoas perderam a noção de valores morais.
Na minha época a gente buscava o belo. O modelo era tentar ser o mais bonito, o mais sensível, o mais delicado. O melhor tipo de música em arranjo e sonoridade. Você ouvia a música clássica porque ela tinha maior complexidade. Estranho mundo onde se glorifica a baixaria, a violência, a marginalidade. Onde imitar negro americano de rua é coisa boa. O filme Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002) é ótimo, mas os filhos dele já não são. Culto ao feio, ao trash, a mim me incomoda muito. Por que não se prestigia o bonito? O mundo pode ficar pior e eu acho que a imprensa está contribuindo para isso. Filmes como Batman e outros baseados em quadrinhos defendem valores morais. Mas os críticos não apontam isso.
As pessoas não sentem o poder que o cinema tem. Ele ainda é muito forte, ainda faz a cabeça das pessoas, como fez a minha. Só que a minha geração procurava o belo. As estrelas são incomparáveis, porque havia toda uma máquina em torno delas para torná-las perfeitas. Toda a gama de estrelas me marcou muito. Da ingênua, a mocinha, que eu acho um papel ingrato porque não tem grandes cenas. A amiga é um papel bom, porque ela faz as piadas. Ela é feiosa e tem as melhores cenas. O galã também é muito ruim. Eu gostava da Debbie Reynolds, porque ela tem uma energia, uma vitalidade difícil de encontrar, que tinha aos 17 anos em Cantando na Chuva (Singin\\\\\\\' in the Rain, Stanley Donen e Gene Kelly, 1951) e A Flor do Pântano (Tammy and the Bachelor, Joseph Pevney, 1957), e que continua tendo hoje aos 77 anos. Em A Inconquistável Molly (The Unsinkable Molly Brown, Charles Walter, 1964) ela faz um número atlético, de circo, absolutamente difícil, que ela faz sem cortes. E ela sequer é bailarina ou tem formação nessa área. Mas fez na força de vontade, isso também eu chamo de talento.
Sobre o Colunista:

Eron Duarte Fagundes
Eron Duarte Fagundes é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955; mora em Porto Alegre; curte muito cinema e literatura, entre outras artes; escreveu o livro “Uma vida nos cinemas”, publicado pela editora Movimento em 1999, e desde a década de 80 tem seus textos publicados em diversos jornais e outras publicações de cinema em Porto Alegre. E-mail: eron@dvdmagazine.com.br
relacionados
últimas matérias